    |
|---|
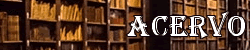       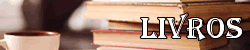 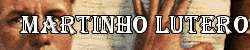   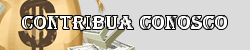  |
Categoria: Historiografia Por Henrique Carneiro Durante séculos, a pior guerra da Europa sempre foi lembrada como tendo sido a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). Alguns historiadores, como Franz Mehring, chegavam a afirmar que “semelhante destruição nunca foi suportada por nenhum grande povo civilizado. A Alemanha foi conduzida a um retrocesso de duzentos anos em seu desenvolvimento“.[1] O número de vítimas dessa catástrofe nunca pôde ser calculado com precisão, mas as estimativas de perda foram desde metade da população da Europa Central até as atuais, mais ponderadas, de uma quinta parte, ou seja, quase 4 milhões de mortos (um retrocesso de 20 milhões para cerca de 16 milhões de habitantes), expressando um grau de morticínio e destruição que só viria a ver superado com as duas guerras mundiais do século XX. Em muitas partes da Alemanha, nem mesmo a Segunda Guerra Mundial teve efeitos tão devastadores, com uma perda, em certas regiões, de mais da metade da população e a quase totalidade da colheita e do rebanho. Para alguns autores, mais do que uma guerra, foi uma crise geral que marcou o século XVII como um século de estagnação ou até mesmo decrescimento demográfico e econômico, discutindo-se apenas se a guerra teria sido uma das causas ou a maior consequência dessa situação de declínio e decadência gerais. O século XVII, na historiografia, ficou como que “comprimido” entre as glórias do século XVI – momento de expansão marítima e de descobertas, como dos metais preciosos da América – e as luzes do século XVIII, período de florescimento dos movimentos da ilustração e das grandes revoluções democrático-burguesas, como a Revolução de Independência Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Visto tradicionalmente pela historiografia europeia como um século de atraso e regressão, guerras e pestes, marcado por deflação, colapso monetário,[2] queda de produção e de população, o século XVII foi anunciado, em Roma, em 1600, com a execução na fogueira de Giordano Bruno, um filósofo que ousara proclamar a existência de um universo infinito onde existiriam infinitos mundos, e a expulsão do astrônomo Kepler da Universidade de Graz. Em meio a um clima geral de crise econômica, de reação cultural contra as inovações do Renascimento e da Reforma, de fortalecimento da Inquisição e das perseguições à bruxaria, de proibições de livros e repressão a sábios como Galileu, as catástrofes geradas pela Guerra dos Trinta Anos só intensificaram um clima de desespero, de intolerância e de violência e destruição generalizadas, embora na segunda metade do século XVII tenha desabrochado, especialmente na Inglaterra e na Holanda, a Revolução Científica da física de Newton e da ótica de Huyghens e, na corte francesa, a opulência do reinado do “rei-sol”, Luís XIV. O século barroco, inquisitorial, da Contrarreforma e da guerra de religiões, alcançou seu momento mais baixo com a Guerra dos Trinta Anos, marcado com o dilaceramento de milhões de mortos, como resultado de um uso empresarial da guerra com métodos modernos, usados por todos os estados, tanto os pequenos principados como as grandes nações, católicas ou protestantes, especialmente a França, Espanha, Suécia e o Sacro Império Romano Germânico. Mas a justificativa religiosa dos conflitos, que estava presente inicialmente tanto entre os rebeldes protestantes como entre os defensores católicos da autoridade religiosa e política do imperador do Sacro Império Romano Germânico, tornou-se mais difusa durante a guerra, com a entrada da França. No fim, estabeleceu-se novo tipo de regulamentação das relações internacionais em que o princípio do interesse nacional substituiu a confissão religiosa. A entrada da França na guerra, ao lado dos protestantes, favorecia o interesse nacional francês, pois permitia-lhe incorporar as regiões da Alsácia e da Lorena, além de enfraquecer o principal inimigo dos Bourbon, a casa Habsburgo da Áustria e Espanha. Como consequência do término da guerra, estabeleceu-se não só um novo equilíbrio de poder, mas uma nova regra do jogo das relações internacionais. Por isso, os Tratados de Westfália, cuja assinatura em 1648 encerrou a Guerra dos Trinta Anos, são vistos como um marco na construção da ordem europeia moderna em que a “razão de Estado” sobrepõe-se aos principíios religiosos medievais da soberania universal do Papado, que haviam sido a base das grandes monarquias nacionais. O período medieval conhecera, no seu cepúsculo, no século XV, o nascimento dos novos Estados modernos de tipo absolutista, que continuaram a ter o tema da religião no centro de sua política. O resultado foi mais de um século de guerra de religiões. A última delas, a dos trinta anos decorridos no início do século XVII, foi talvez a mais destrutiva, mas encerrou um período ao constituir novo edifício político e jurídico para a ordem europeia, baseado no pragmatismo da razão de estado e do interesse nacional. Guerra Civil Alemã e Conflito Internacional Nesse longo conflito, com uma geração inteira nascida sob sua égide, chegando por vezes a acreditar que a guerra seria “eterna”, ocorreram um conjunto de guerras em distintas regiões, com fases diversas de campanhas travadas sobretudo no centro da Europa: Boêmia, Saxônia, Palatinado, Bavária, Áustria, mas também nos Países Baixos, na Itália, na fronteira franco-espanhola, na Polônia, na Hungria, na Transilvânia, na Dinamarca. Os lados em conflito possuem dois polos claros, mas as alianças internacionais no centro da Europa modificaram-se durante o conflito e obedeciam as rivalidades bilaterais específicas, como a franco-espanhola, franco-austríaca, hispano-holandesa, além de uma infinidade de outras menores entre os principados alemães. Os dois grandes blocos eram: – Um bloco encabeçado pela dinastia Habsburgo do rei Fernando da Estíria, da Áustria e da Hungria, eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico (e depois por seu filho Fernando III), que se aliava com as regiões católicas da Alemanha, especialmente o rei da Bavária, Maximiliano I, e se unia, por laços de parentesco e de afinidade política e religiosa, à maior potência internacional da época: a Espanha, governada por Felipe III (e depois por Felipe IV). Esse bloco católico recebia também, em geral, o apoio do papa e da Polônia. De uma maneira esquemática, esse bloco representava a aliança católica, que chegou a sonhar, num espírito jesuíta e contrarreformista, em abolir a heresia protestante da Europa. Mas durante longos períodos ele recebeu também o apoio dos luteranos, como a Saxônia, e até mesmo dos calvinistas de Brandemburgo. – Um bloco com os rebeldes protestantes da Boêmia e de diversas regiões germânicas, especialmente o Palatinado de Frederico V, apoiado pelos Países Baixos, pela Suécia, pela Dinamarca, pela Inglaterra e pela França católica. Embora esse bloco lutasse pelo direito dos protestantes, a “liberdade da Alemanha”, como declaravam, ele contou com o apoio fundamental da França, que, ao ingressar diretamente no conflito em sua fase final, decide com a Suécia o resultado da guerra. A França evitou, durante muitos anos, a entrada efetiva na guerra, praticando uma “guerra coberta”, com apoio financeiro mas sem envolvimento direto até 1635. Sua intenção sempre foi de criar um “terceiro polo” entre a aliança espanhola-imperial e o bloco dos protestantes alemães, suecos e holandeses. Para isso, a França estabeleceu relações com o principal estado católico alemão, a Bavária, e os principais estados protestantes, especialmente a Saxônia Luterana, buscando garantir os direitos católicos e protestantes e descaracterizar a guerra como um conflito religioso. O principal objetivo da França era neutralizar o poderio espanhol e austríaco, em que dois ramos da mesma dinastia Habsburgo se uniam na missão de restaurar a “monarquia universal” representada pela união de interesses entre o Império e a Contrarreforma. Por isso, em função do seu interesse nacional, a França defendeu os direitos religiosos dos protestantes alemães, embora enfrentasse, no mesmo período, em seu próprio território, rebeliões protestantes em La Rochelle. Pode-se dizer que os dois grandes vencedores foram a França e a Suécia, mas também os Países Baixos, a Suíça e as regiões protestantes alemãs obtiveram conquistas. As maiores derrotadas foram a Espanha, praticamente excluída da política centro-européia, e a Áustria, com a diminuição do poder do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Mas, acima de tudo, foi definitivamente derrotado o projeto da Contrarreforma católica de restaurar o domínio do Papado e reverter o protestantismo na Europa Central e do Norte. Mas a Guerra dos Trinta Anos não era um só conflito com dois lados definidos. Os protestantes também estavam divididos: os luteranos da Saxônia e mesmo os calvinistas de Brandenburgo permaneceram bastante tempo aliados com o imperador católico contra a Boêmia e o Palatinado. Cada país envolvido, além disso, possuía seus próprios e particulares interesses e estava em guerras específicas com seus inimigos: Espanha versus França (uma guerra que continuou até a assinatura da Paz dos Pirineus, em 1659), Espanha versus Países Baixos (guerra que já durava desde 1568), Suécia versus Polônia, Suécia versus Dinamarca. E, nos limites externos da Europa, espreitava um inimigo comum, a Turquia otomana, que nem por isso deixava de influir no conflito, buscando apoiar o lado protestante, inimigo do imperador contra quem os turcos lutavam nas fronteiras da Hungria. Além da guerra entre príncipes, exércitos e senhores, também ocorreram durante esse período diversas revoltas camponesas como a de 1626 na alta Áustria, contra os impostos e a opressão das tropas bávaras. Com o desenrolar da guerra e a espoliação sistemática dos camponeses, tornou-se uma questão de sobrevivência a prática de uma guerrilha defensiva, estocagem de produtos, e sistemas de alerta e fuga entre as aldeias e populações. Revoltas urbanas também foram importantes: a mais significativa, talvez, seja a insurreição antiespanhola de Nápoles, liderada por um vendedor de peixe, Masaniello, em 1647, que foi derrotada, no entanto, deixando Nápoles sob controle espanhol até 1707, quando passou para a esfera da Áustria e, depois, para a da França. As muitas guerras – pelo controle do mar do Norte e do Báltico, dos passos alpinos entre Suíça e Itália, das cidades fortalecidas, do tráfego do rio Reno e dos pôlderes e pântanos do seu estuário nos Países Baixos, dos assuntos franco-espanhóis nos Pirineus, dos rebeldes na Transilvânia, assim como a fronteira defensiva diante da pressão turca – reuniam-se nos territórios alemães, que concentraram as tensões de toda a Europa, do Báltico ao Mediterrâneo. As consequências da guerra atingem Portugal e o Brasil, pois a retomada da independência portuguesa, em 1640, inseriu-se no debilitamento espanhol, que sofria também as revoltas da Catalunha e em Nápoles, além de Portugal. As tomadas holandesas de partes do Brasil eram, da mesma forma, eventos que se definiam movimentos no múltiplo e complexo jogo de xadrez no centro da Europa. Nos anos posteriores aos tratados de Westfália, do ponto de vista comercial, naval e militar, a grande potência emergente é a Holanda ou, mais precisamente, as Províncias Unidas dos Países Baixos. Em poucas décadas, entretanto, a Holanda será deslocada de sua posição pelas França e a Inglaterra, as grandes nações em desenvolvimento, que, em torno de sua rivalidade, constituirão um sistema de disputas e alianças, por mais de um século, na busca de hegemonia no sistema europeu. Guerra de Religiões e Também Guerra Econômica Com a Paz de Augsburgo, estabeleceu-se uma relativa trégua entre católicos e protestantes e garantiu-se um importante espaço para a prática do protestantismo na Alemanha – desde que fosse da vertente luterana, pois os calvinistas continuaram proibidos. Cada governante territorial das centenas de unidades políticas alemãs passou a poder escolher sua religião e, assim, decidir a religião de seus súditos, segundo o princípio do cuius regio, eius religio (“conforme cada rei, sua religião”), permitindo-se a emigração dos descontentes. Admitia-se, pela primeira vez, como uma lei do Império, a existência legal de duas religiões, um príncipe podendo exercer o jus reformandi (direito de reforma) e erguer outra igreja em seus domínios, e um bispo podendo romper com o papa e assim, além de converter-se, podia secularizar as propriedades eclesiásticas do seu bispado, que passavam a ser consideradas legítimas, se ocorrido até 1552. A partir dessa data, vigoraria a “reserva eclesiástica” que impedia que novas propriedades clericais fossem secularizadas, um limite que não chegou a ser aceito pelos protestantes, permanecendo como um dos focos do conflito. Assim, a pátria do protestantismo, a Alemanha de Lutero, conseguiu adiar sua guerra de religiões para o século seguinte, enquanto a França e a Inglaterra consumiram-se em lutas sangrentas, da qual a Noite de São Bartolomeu, em 1572, é só um auge, com milhares de protestantes huguenotes franceses assassinados pelos católicos. Mas, se a guerra de religiões poupou relativamente a Europa Central no século XVI, no século seguinte ela eclodiria com toda a fúria. Nesse momento, entretanto, já haveria outras nações protestantes estabelecidas, como os Países Baixos, a Inglaterra e a Suécia, que veriam na luta entre os alemães um assunto europeu. Colocava-se, para elas, a necessidade de um sistema de alianças internacional contra a ameaça hegemonista das monarquias católicas da Espanha e Áustria, unidas na mesma família dos Habsburgo, que se lançavam numa cruzada inquisitorial e imperial para restaurar a unidade da fé, impondo a submissão ao papa e extirpando a heresia protestante. A exuberância da expansão do capitalismo mercantil europeu no século XVI levou a uma crescente disputa por interesses comerciais, especialmente ligados ao tráfico marítimo, ao controle de rotas e de fontes de arrecadação de tributos. Os Estados tornavam-se enormes máquinas fiscais, financeiras, burocráticas e militares. A guerra era o comércio por outros meios. A independência dos Países Baixos representa, assim, além de um anseio nacional e de uma dissidência religiosa, um interesse específico de nova camada da burguesia ascendente que se chocava contra os interesses dinásticos e religiosos medievais da Coroa espanhola, do Sacro Império e do Papado. Essa burguesia mercantil tornou-se muito influente, especialmente na Holanda, na Inglaterra, nos portos do mar do Norte, em Genebra, e adotou em todos esses lugares o protestantismo, especialmente na sua versão radical, o calvinismo. Diferentemente dos luteranos, que acreditavam que os homens devem se conformar com seu lugar e sua condição de nascimento, os calvinistas viam no sucesso e na ascensão econômica e comercial um sinal de predestinação à salvação. Nos conflitos políticos e militares dos séculos XVI e XVII, os luteranos, em geral, colocaram-se do lado do poder oficial, condenando qualquer tipo de rebelião. Os calvinistas, ao contrário, representaram as posições que justificaram a revolta contra o poder do Papado, do Império e dos reis. A presença entre eles de muitos comerciantes e burgueses bem-sucedidos é uma evidência de quais setores representavam. As potências dominantes – especialmente a Holanda, numa primeira fase, e a Inglaterra, numa fase posterior – tornaram-se os mais poderosos países em termos econômicos, navais e militares. No contexto da Guerra dos Trinta Anos, a vitória do lado dos protestantes, especialmente para holandeses, suecos e alemães, representou a conquista de uma preponderância comercial dos países do Norte, diante da derrota da supremacia espanhola e mediterrânica. O Sacro Império e a Fragmentação da Alemanha Numa população total de cerca de 20 milhões, os maiores estados eram Saxônia, Brandemburgo e Bavária, com 1 milhão cada um; a seguir o Palatinado (dividido em duas grandes partes, uma luterana ao norte e outra calvinista ao sul), Hesse (dividido em quatro), Trier e Wurttemberg. Esse conjunto amplo de pequenos, médios e grandes estados dividia-se segundo lealdades político-religiosas. De um lado, a Liga Católica, liderada por Maximiliano I, da Bavária, fiel ao imperador e ao papa. De outro, a União Protestante, liderada por Frederico V, do Palatinado, defensora da liberdade dos cultos reformados. A influência do calvinismo no Palatinado Renano, que se une por matrimônio com a Casa de Nassau (Holanda), e o envio de oficiais alemães para a escola militar holandesa fortalecem as relações entre a mais arrogante adversária do imperador Habsburgo na Alemanha e a principal província rebelde da Espanha. Em Heidelberg, no Palatinado Renano, os calvinistas alemães encontram um de seus bastiões universitários (ao lado das universidades de Genebra e Basileia). A universidade local foi acusada pelo imperador Fernando de representar uma “subversiva escola calvinista onde os nobres do reino embeberam-se, em sua juventude, no espírito de rebelião e oposição à autoridade legítima”.[3] A região eslava (tcheca) da Boêmia também havia sido um dos berços da Reforma Protestante, antes mesmo da rebelião de Lutero, quando João Huss, no século XV, promoveu uma revolta que levaria à constituição de uma Igreja Hussita, também conhecida como “utraquista”, pois praticavam a “comunhão em duas espécies”, com pão e vinho, chamada em latim de sub utraque specie. Essa Igreja Hussita e outras menores uniram-se sob a chamada Confissão Theca, que o imperador Rodolfo II havia aceitado com o documento conhecido como Carta de Majestade, de 1609. Acima de todos os pequenos e grandes estados estava o Sacro Império Romano Germânico, que desde o final do século XV se sucedia dinasticamente na Casa da Áustria dos Habsburgo. O Sacro Império Romano Germânico fora constituído em 962, com a coroação do imperador Otto pelo papa João XII, e durou até 1806, com a invasão napoleônica da Prússia. Ao ser criado, sua pretensão era reivindicar a sucessão de Carlos Magno e, antes ainda, do antigo Império Romano do Ocidente, o que significava se considerar a herança direta da civilização romana e cristã, que entrara em colapso com as invasões bárbaras e nunca mais se reorganizou. As tentativas dos reis germânicos em proclamar-se imperadores foram apoiadas e legitimadas pelo Papado, mas nunca conseguiram, de fato, constituir um estado imperial centralizado e poderoso. O Império, desde Viena (ou de Praga ou de Gratz), representava a unidade temporal dos católicos, assim como o Papado, desde Roma, representava a sua unidade espiritual. Nas palavras do grande jurista Pufendorf, o Império era um corpo político desregrado e monstruoso. Sua estrutura complexa compreendia três colégios representados na Dieta Imperial (Reichstag): dos 7 eleitores imperiais, dos 150 príncipes e das 52 cidades, e podia decidir sobre tributos. Desde o século XIV, segundo a chamada “Bula de Ouro” de 1356, definira-se que apenas sete príncipes seriam os eleitores do imperador. Três desses príncipes eram eclesiásticos: os arcebispos de Mogúncia (Mayence), de Colônia e de Trèves, e quatro eram eleitores leigos: o rei da Boêmia, o duque da Saxônia, o marcgrave de Brandemburgo e o conde palatino do Reno. O Império sempre mantivera uma relação de disputa com o Papado, não só no sentido de primazia espiritual sobre os católicos, como de controle de territórios e áreas de influência na Itália. Depois da tolerância religiosa conquistada com a Paz de Augsburgo, houve uma época em que variantes do protestantismo chegaram até mesmo a quase atrair os imperadores católicos como Maximiliano II e Rodolfo II. Este último, tendo sido mais um curioso pela magia e protetor das ciências, foi chamado de “imperador alquimista”. Seu irmão, entretanto, o imperador Matias, inclinou-se pelo catolicismo e, sobretudo desde 1619, Fernando II foi um católico fervoroso influenciado pelos jesuítas, devoto extremado a tal ponto que a historiografia designou seu governo como “absolutismo confessional”. Mas tal fanatismo católico imperial, que chegava a ser mais irredutível e radical do que o próprio papa, intensificou a tradicional disputa com o Vaticano, especialmente após a eleição do papa Urbano VIII, em 1623. Além de já enfrentar a pressão turco-otomana na sua fronteira oriental, o Império viu na rebelião da Boêmia, do Palatinado e de outras regiões um desafio que, para ser enfrentado, devia contar com o apoio espanhol, como aconselhava a Fernando II seu confessor jesuíta. Espanha: O Império em Decadência As lutas da Espanha com sua província holandesa rebelde (1568-1648) não foram objeto de intervenção ou apoio austríaco, mas quando irrompeu a guerra entre os príncipes alemães e o imperador, a Espanha ficou colocada diante do dilema de intervir ou não no conflito centro-europeu. A decisão pela intervenção levou-a a uma situação de esgotamento de recursos, endividamento, derrotas militares, isolamento e fragmentação, com diversas revoltas em Portugal, Catalunha e Nápoles ocorrendo no período final da guerra, em que a Espanha se sentou à mesa de negociações na Westfália claramente em desvantagem, tendo de aceitar a independência holandesa, após 80 anos de luta, e perdendo definitivamente qualquer capacidade de interferir na política centro-europeia. As lutas da Espanha com sua província holandesa rebelde (1568-1648) não foram objeto de intervenção ou apoio austríaco, mas quando irrompeu a guerra entre os príncipes alemães e o imperador, a Espanha ficou colocada diante do dilema de intervir ou não no conflito centro-europeu. A decisão pela intervenção levou-a a uma situação de esgotamento de recursos, endividamento, derrotas militares, isolamento e fragmentação, com diversas revoltas em Portugal, Catalunha e Nápoles ocorrendo no período final da guerra, em que a Espanha se sentou à mesa de negociações na Westfália claramente em desvantagem, tendo de aceitar a independência holandesa, após 80 anos de luta, e perdendo definitivamente qualquer capacidade de interferir na política centro-europeia. Após prosseguir em guerra com a França, mesmo depois das negociações de Westfália, até 1659, quando foi firmada a Paz dos Pirineus, a Espanha tornara-se uma potência de segunda classe, subordinada cada vez mais à influência francesa e, além das Províncias Unidas, teve de aceitar a perda de Portugal e suas colônias. O século XVII, que tinha sido o barroco “século de ouro” espanhol, foi se tornando cada vez mais um “século francês” (e holandês). O “grande drama do século”, nas palavras do historiador Eduardo d’Oliveira França, foi a “conjuração das nações ocidentais para a liquidação do sáurio peninsular”, pois era na Península Ibérica que ainda subsistia um grande estado baseado na defesa intransigente da unidade católica. O “dinossauro” espanhol, velho império de caráter medieval, juntava-se à outra potência em extinção, governada pela mesma família Habsburgo, o Sacro Império Romano Germânico, cuja fragmentação vai abrir espaço para a emergência das novas potências europeias: França, Holanda e Inglaterra. A Península Ibérica, que quase permanecera imune ao Renascimento, também pouco assimilou da Ilustração e, assim como careceu de uma verdadeira revolução burguesa democrática, também não acompanhou a revolução industrial, permanecendo como uma economia essencialmente agrária e pastoril até o século XX. As raízes desse atraso residem, em grande parte, nas batalhas perdidas pela Espanha na Guerra dos Trinta Anos, na qual participou para tentar fazer a Europa retroceder a um estado de coisas já impossível de ser restaurado. Holanda: A Província Rica e Rebelde A interferência holandesa na Guerra dos Trinta Anos foi decisiva, fornecendo não só tropas bem treinadas e apoio financeiro como um conjunto de novas técnicas e procedimentos militares formalizados pela academia militar de Maurício de Nassau. Com o término da guerra, a República das Províncias Unidas encontrou-se na condição de um dos países mais poderosos, com a maior frota naval militar e comercial, com o controle da maioria das colônias asiáticas e parte das americanas e com um imenso desenvolvimento urbano e cultural. Era o chamado “século de ouro” holandês. O novo direito internacional que decorre dos Tratados de Westfália incorpora grande parte das concepções de Hugo Grotius (1583-1645), político e jurista holandês que escrevera uma importante obra sobre a “liberdade dos mares” como princípio necessário das relações internacionais, garantindo por meio da liberdade de comércio a expansão desse novo e poderoso estado emergente que resultara da aliança entre “Marte e Mercúrio”, ou seja, da guerra com o comércio. De Amsterdã, com o fechamento do porto concorrente de Antuérpia, nos Países Baixos espanhóis, as Províncias Unidas conseguiram tornar-se, por várias décadas, até as guerras anglo-holandesas, a mais rica e promissora nação mercantil do mundo. A expulsão dos espanhóis dos Países Baixos criava, entretanto, o problema da convivência com a França, incômodo definido pelo provérbio holandês Gallus amicus non vicinus (“amizade com os franceses, mas não vizinhança”). Para evitar uma fronteira comum com tão grande e poderoso vizinho que poderia facilitar tentativas de invasão, surgiu a política de criação de um “Estado-tampão”, que se tornou, mais tarde, a Bélgica. França: A Maior Nação Católica ao Lado dos Protestantes A França vinha enfrentando a Espanha e a Áustria coligadas desde o século XVI, quando Francisco I perdeu o trono imperial para Carlos V. As maiores monarquias católicas da Europa distanciavam-se entre si e o Papado aliava-se preferencialmente com os espanhóis que já ocupavam grande parte da Itália, como Nápoles e a Sicília. A França, sob a dinastia Bourbon, havia conseguido uma trégua interna na guerra de religiões, desde a concessão do Edito de Nantes, por Henrique IV, em 1598. Seu filho, Luís XIII, orientado pelo chanceler, o cardeal Richelieu, continuou uma política de relativa tolerância interna para com os protestantes e uma orientação externa baseada nos interesses nacionais franceses, rompendo com o pressuposto do alinhamento confessional nas alianças internacionais. A intervenção francesa na guerra, concentrada em sua metade final, iniciou-se diretamente em 1624, quando Richelieu assume a chancelaria e a França ocupa, com as tropas suíças, os vales alpinos e o passo em Valtellina, expulsando as tropas papais e oferecendo ajuda ao duque da Saboia em seu assédio a cidade de Gênova. Dessa forma, corta-se o contato entre os territórios espanhóis da Itália e a Flandres. A França vacilou durante anos, buscando construir um terceiro polo que atraísse tanto os príncipes católicos alemães, o mais importante dos quais era Maximiliano da Bavária, como os luteranos da Saxônia, para um distanciamento do imperador. Como estava cercada por territórios de seu maior inimigo, a Espanha, buscava sobretudo controlar suas regiões de fronteira, absorvendo a Alsácia, expulsando os espanhóis dos Países Baixos e, até mesmo, se possível, anexando a Catalunha. Finalmente, em 19 de maio de 1635, após concluir tratados de aliança com a Suécia e as Províncias Unidas, declarou oficialmente a guerra à Espanha e ao arquiduque governador dos Países Baixos espanhóis. Outros Países A Inglaterra, envolvida durante quase todo o conflito na guerra civil interna entre os apoiadores do rei Carlos I, executado em 1649, e o Parlamento defendido pelo exército de Oliver Cromwell, não desempenhou nenhum papel de destaque na guerra continental. De maneira distante, a Inglaterra apoiou, nas primeiras fases da guerra, o lado dos protestantes, por razões religiosas e político-dinásticas, pois Frederico V, do Palatinado, era casado com Elizabeth Stuart, filha de Jaime I. Na Península Itálica havia territórios espanhóis (Milão, Nápoles, Sicília e Sardenha), territórios do papa, que apoiavam o lado imperial e espanhol na guerra, e estados livres entre os quais o Ducado de Saboia, a Toscana, Veneza e outros ducados menores. Estes últimos oscilaram em suas alianças, mas aliaram-se, como foi o caso da Saboia, preferencialmente com a França contra o domínio espanhol e austríaco sobre a Itália. Veneza manteve-se uma relativa neutralidade, a ponto de servir como mediadora nas conferências de Westfália que encerraram a guerra. A Guerra e Suas Fases O novo imperador Fernando II, eleito pelos sete eleitores em 28 de agosto de 1619, reuniu da capital imperial em Viena o apoio dos católicos alemães, especialmente Maximiliano I, da Bavária, mas também da Saxônia Luterana, e com as tropas bávaras e espanholas invadiu a Boêmia e ocupou o Baixo Palatinado, derrotando os rebeldes boêmios em 8 de novembro de 1620 numa batalha na montanha Branca, próxima de Praga. Com essa vitória, o imperador tornou o catolicismo a religião oficial, abolindo as garantias de liberdade de culto da Paz de Augsburgo (1555). Os espanhóis instalaram-se no Baixo Palatinado, na região do rio Reno, expulsando Frederico V, que se exilou na Holanda, e lá buscaram consolidar seu poderio europeu através desse “corredor” entre a Itália e a Flandres. O título de eleitor imperial de Frederico V do Palatinado foi transferido para Maximiliano I da Bavária. Ao mesmo tempo, a partir de 1621, rompia-se uma trégua de 12 anos entre Espanha e Países Baixos. Esse fortalecimento dos católicos ligados ao Império atemorizou muitos principados alemães protestantes e, especialmente, os países que eram rivais da Espanha e da Áustria, como as nações protestantes – Suécia, Dinamarca, Holanda e Inglaterra. Mas também a França, que como maior nação católica da Europa disputava a supremacia da cristandade diante da Espanha, do Império e do Papado. O que era uma controvérsia entre alemães se tornou uma questão internacional que envolvia o controle do centro da Europa e também das rotas comerciais marítimas e terrestres. A luta entre os principados alemães protestantes e o Império Habsburgo não era apenas uma disputa religiosa, mas estava em jogo o controle da Europa num contexto estrutural de crise e estagnação. O que era uma guerra civil no Império Germânico desdobrou-se no mais agudo conflito bélico na Europa moderna devido à conjunção de diferentes disputas (rivalidade franco-espanhola, luta holandesa contra a Espanha pela independência nacional, Reforma e Contrarreforma) que de forma paralela e depois conjugada se somaram para uma deflagração generalizada. A Guerra dos Trinta Anos desenvolveu-se em cinco fases distintas: – da Boêmia, de 1618 a 1621; Em todas elas, cada um desses países enfrentou a força coligada do imperador e da Espanha, além dos estados germânicos católicos, como a Bavária. A fase da Boêmia (1618-1621) começa com a rebelião de Praga, a ruptura com o imperador Matias, a formação do Diretório boêmio, cuja ata de confederação, em 21 de janeiro de 1619, representa a união da Boêmia, da Morávia, da Silésia e das duas Lusáceas. Quase simultaneamente, a coroação de Frederico V, do Palatinado, como o rei da Boêmia, o “rei de um inverno”, desafia o novo imperador eleito. Essa fase termina com o isolamento dos rebeldes e sua derrota diante dos espanhóis e das tropas imperiais na Batalha da montanha Branca. Os príncipes protestantes alemães em sua maioria – até mesmo a Saxônia, que havia sido a protetora de Lutero – unem-se ao imperador, que conta também com o apoio do papa e do rei da Polônia. Os países protestantes aliados dão ajuda financeira aos revoltosos boêmios mas não se envolvem militarmente. Frederico V, derrotado, busca abrigo em Haia, para onde transfere sua corte no exílio. O novo imperador Fernando II, imbuído de um espírito contrarreformista, confisca domínios, abole privilégios políticos e a liberdade de culto e condena à morte os revoltosos. A fase do Palatinado (1621-1624) ocorre devido à ocupação dessa região, após a expulsão de Frederico V, porque o Império e a Espanha, embriagados com seu sucesso, resolvem acabar com os direitos até então gozados pelos protestantes – o que inquieta não apenas aos protestantes alemães, como a Suécia, a Dinamarca, a Inglaterra e as Províncias Unidas. O avanço dos espanhóis e das tropas do papa na Suíça, por onde atravessa o eixo vertical da Europa que une o mar do Norte e o Mediterrâneo por terra, seguindo o percurso fluvial do rio Reno até sua foz, preocupou a França que, retomando os Alpes, abriu novo front da guerra. A fase dinamarquesa (1625-1630) representa o primeiro envolvimento direto de um país protestante que vai, financiado pela França, em apoio da Boêmia e do Palatinado, para enfrentar o Império e os espanhóis. O rei Christian IV, da Dinamarca, no entanto, também é derrotado pela coligação imperial-espanhola, chefiada por Wallenstein, um nobre tcheco que reúne um exército de 30 mil soldados e se torna o principal empresário militar do lado católico. O imperador, ainda mais fortalecido, proclama o Edito da Restituição, em 1629, retomando todas as terras e concessões feitas aos protestantes desde 1555. Em contraste com essa atitude, Richelieu, nesse mesmo ano, na França católica, repetindo a anterior política de tolerância relativa do Edito de Nantes, concede, com a Graça de Alais, a liberdade de culto aos protestantes franceses, chamados de huguenotes, após derrotar sua cidade rebelde de La Rochelle com longo cerco e obrigá-la a derrubar sua fortaleza. Na fase sueca (1630-1634), o rei Gustavo Adolfo lidera pessoalmente um poderoso e modernizado exército que entra na Pomerânia em 1630, quando a guerra realmente se internacionaliza com dezenas de milhares de soldados estrangeiros no território alemão. Já em disputas com a Polônia católica, Gustavo Adolfo dedica-se a enfraquecer o poder espanhol e imperial, e recebe apoio russo. Em 1631, a cidade protestante de Magdeburgo, com 20 mil habitantes, é massacrada pelo exército imperial do general Tilly, mas, alguns meses depois, ocorre a primeira importante vitória militar protestante na guerra. Na batalha de Breitenfeld, próximo a Leipzig, a aliança de 40 mil soldados suecos e brandemburgueses derrota os imperiais entrando, em seguida, em Praga, e chegando finalmente a ocupar Munique. Essa expedição vitoriosa é interrompida em 16 de novembro de 1632, com a morte de Gustavo Adolfo na batalha de Lützen. Frederico V, do Palatinado, também morre nesse outono de 1632. Somente na fase francesa (1634-1648) a balança, pela primeira vez, pende claramente contra o lado imperial e espanhol. A divisão religiosa atenuava-se também, pois a Saxônia luterana e Brandemburgo calvinista negociaram a Paz de Praga com o Império, em 1635, enquanto a França somava-se, com mais de 120 mil soldados, à Suécia e à Holanda na guerra contra a Espanha e o Império. A intervenção de uma nação católica no lado protestante da guerra foi uma hábil decisão geopolítica da diplomacia francesa de Luís XIII, por meio de seu chanceler, Richeileu, e, após 1643, Luís XIV e Mazarino. A França busca, por meio de negociações separadas com a Suécia, a Bavária e os Países Baixos, obter seus territórios ambicionados, especialmente a Alsácia, e conseguir a derrota da Espanha. Nessa fase, a guerra alcança um pico de destruição e de despovoamento. Devastadas por campanhas sucessivas, as regiões pilhadas esgotam-se, os campos não são cultivados e a peste se alastra. O novo imperador, Fernando III, acuado pelos poderosos exércitos suecos e francês, recua cada vez mais e começa a fazer concessões, como a retirada, em 1641, no Edito de Restituição. O poderio de seu aliado espanhol, Felipe IV, entra em colapso, com rebeliões eclodindo a partir de 1640 na Catalunha e em Portugal, enquanto os holandeses controlam o Nordeste brasileiro e importantes entrepostos africanos e asiáticos. A guerra civil aberta na Inglaterra desde 1642 também era uma advertência de que rebeliões podiam desafiar as monarquias absolutistas. Uma guerra de dois anos entre Suécia e Dinamarca (1643-45) retarda o avanço sueco na Alemanha, mas em 1645 as disposições para negociações generalizam-se, preparando o terreno para os tratados de paz. As conferências de paz na Westfália prolongam-se por vários anos. Os católicos reúnem-se em Münster e os protestantes em Osnabrück. O Contexto Militar A academia militar de Maurício de Nassau, fundada em 1618, e seus manuais foram a maior expressão de uma racionalidade militar em que nasceu a forma moderna de combater, com grandes exércitos de infantaria treinados para enfrentar cargas de cavalaria com armas de fogo usadas sincronicamente e cercar cidades e fortalezas amuralhadas com nova arquitetura de defesa. O que os holandeses iniciaram e teorizaram foi levado a uma escala superior pelo exército muito maior de Gustavo Adolfo, da Suécia. Os modernos recursos militares abrangiam também a indústria de guerra. A metalurgia, em especial na Suécia, obteve os melhores resultados, com destaque para a artilharia, o que fez do exército sueco um dos mais bem preparados militarmente. Desde o século XV demonstrara-se a eficiência do uso de lanças no confronto com cargas de cavalaria. Com o desenvolvimento das armas de fogo, a cavalaria, que fora imbatível das hordas de conquistadores asiáticos, tornou-se menos eficaz. Consolidava-se a era das armas de fogo. O uso dos mosquetões, armamento de um tiro que precisavam ser recarregadas, exigia a operação de complexa coreografia de salvas repetidas dadas por fileiras de atiradores em pé, de cócoras e deitados, que eram revezados por outros que estavam atrás. O uso da artilharia móvel também foi realizado como nunca antes. Uma batalha que exemplifica as condições da revolução militar aplicada por holandeses e suecos é a que ocorreu em Breitenfeld (ao norte de Leipzig), em 17 de setembro de 1632, que foi considerada como a primeira vitória esmagadora dos protestantes. O exército imperial, do general Tilly, com cerca de 31 mil soldados, enfrentou-se com o exército sueco de Gustavo Adolfo aliado às forças da Saxônia, totalizando cerca de 41 mil homens. A diferença em favor dos protestantes não era apenas no número de soldados, mas na sua formação ágil de atiradores coordenados, que disparavam balas de 20 milímetros com razoável pontaria até 50 metros, além de equipes especiais de atiradores de precisão, e na capacidade de sua artilharia móvel, que lançava, a cada seis minutos, bolas de ferro de 9kg a uma distância de 1700 metros. O resultado foi a destruição, em menos de duas horas, de dois terços do exército imperial, com a morte de quase 8 mil dos seus soldados e a captura de quase 10 mil prisioneiros. Mas a revolução militar teve diversas outras repercussões. A técnica do cerco de cidades e fortalezas aprimorou uma arquitetura específica de fortificações que, diante do fogo dos canhões, adotou muralhas baixas e espessas em lugar dos altos muros dos castelos medievais. As novas fortificações, em forma de estrela, marcaram a época, sobretudo nos territórios dos Países Baixos onde a topografia cheia de canais e pântanos colaborava naturalmente para as linhas de defesa. A existência de exércitos de dezenas de milhares de soldados criou uma situação caótica durante décadas. No auge da guerra, entre 1625 e 1635, houve cerca de 1 milhão de soldados entre todos os exércitos em luta. Ao final da guerra, ao menos 200 mil permaneciam mobilizados. Mesmo com as assinaturas dos tratados que finalizaram o conflito, continuaram os problemas para a desmobilização desses imensos contingentes, o que tardou ainda vários anos após o término dos combates, com a necessidade de tratados específicos apenas para efetivar a desmobilização dos exércitos. Os maiores exércitos eram o imperial, o sueco, o espanhol e o francês, mas cada principado, cada cidade, cada região possuía suas forças bélicas. Havia até mesmo um estado protestante, Hesse-Kassel, que ficou durante 18 anos com seu território ocupado pelas forças imperiais, o que não o impediu de manter um exército de 10 mil soldados em luta em diversos lugares. Cada exército era acompanhado de contingentes de seguidores, criados, mulheres, crianças, além de milhares de cavalos que também precisavam ser alimentados. O aparato logístico para o abastecimento da soldadesca era quase nulo, seus pagamentos atrasavam, ocorriam motins e buscava-se o que comer e onde se alojar entre as populações dos territórios ocupados ou atravessados. Essas pilhagens revestiram-se de grande crueldade e causaram talvez mais vítimas do que as próprias batalhas. Embora a maioria fosse de soldados voluntários, havia muito recrutamento forçado e prisioneiros libertados para lutar, e o pagamento, muitas vezes, era apenas a própria pilhagem. As batalhas eram sangrentas. Nas maiores, enfrentavam-se dezenas de milhares de combatentes e morriam milhares de homens, às vezes até metade ou mais dos envolvidos. Após o saque sueco de Francfort do Oder, em 1631, o enterro de todos os cadáveres demorou seis dias. A carência de uma estrutura de exércitos nacionais permanentes fez com que o uso de mercenários se tornasse uma parte estrutural da força recrutada e, muitas vezes, esses mercenários mudavam de lado, amotinavam-se por falta de pagamento, tomavam seus generais como reféns ou, simplesmente, desertavam. Como já escrevera Maquiavel, um século antes, em O Príncipe, “sem ter armas próprias, nenhum principado está seguro […] se alguém tem seu Estado apoiado nas tropas mercenárias, jamais estará firme e seguro, porque elas são desunidas, ambiciosas, indisciplinadas, infiéis […].” Na Guerra dos Trinta Anos, as tropas mercenárias foram amplamente usadas e os estragos por elas causados foram, muitas vezes, mais destrutivos para os territórios dos Estados que as contratavam do que as próprias ações das tropas inimigas. De qualquer modo, diante dos perigos e da desolação geral da guerra, era mais prudente estar dentro de um exército do que fora. Os empresários militares cresceram como grandes agenciadores dos exércitos e caudilhos militares tornaram-se os principais chefes da guerra, entre os quais se destaca, do lado imperial e espanhol, o general Alberto de Wallenstein, que depois de várias campanhas foi morto em 1634. A carreira dos chefes militares de êxito estimulava ambições maiores, numa época em que um soldado como Cromwell se tornaria chefe de um Estado, e o nobre tcheco Wallenstein foi destruído por seus próprios companheiros, frustrando-lhe seu sonho de ficar com a coroa da Boêmia. Outros aspectos limitavam a eficiência dos exércitos, especialmente do francês, como a existência da venalidade dos cargos: os comandos militares eram vendidos ou concedidos a uma nobreza inexperiente em guerras longas e sistemáticas. Os soldados, recrutados de forma anônima, sem uma identificação, desertavam e não podiam ser localizados; as estatísticas com que o comando podia contar eram bastante falhas. Entre alguns dos significados culturais da guerra, vale sublinhar a difusão do uso de bebidas alcoólicas pelos soldados, com destaque para a popularização dos destilados de cereais. Como escreveu o historiador militar John Keegan, “tomar bebida alcoólica antes da batalha é uma prática quase universal onde há vinho ou bebidas destiladas”. Naquele século, ampliou-se muito o uso dos destilados, principalmente o gim, inventado pelos holandeses com o acréscimo aos cereais (cevada e centeio) de uma planta aromatizante, o zimbro (também chamado de junípero, cujo nome em holandês é genever). O gim recebeu o apelido de “coragem holandesa” e tornou-se a bebida destilada mais consumida pelas populações germânicas e, mais tarde, pelos ingleses. O Fim da Guerra e os Tratados de Westfália O custo da conferência foi enorme, superando em alguns casos até mesmo o gasto militar. Finalmente, em 1648, logo em janeiro, concluiu-se a paz do conflito mais antigo que estava imbricado na Guerra dos Trinta Anos, que era a guerra da independência das Províncias Unidas da Espanha. Pela primeira vez em 80 anos, a Espanha reconheceu de forma definitiva a independência holandesa e, em seguida, abandonou a conferência de paz, prosseguindo a guerra com a França até 1659. Os maiores significados do final da guerra para países e blocos de países foram, principalmente: o fim do Império Habsburgo e da Espanha como potências centrais (que disputam hegemonia), a emergência da hegemonia holandesa e depois britânica e o advento máximo esplendor do absolutismo francês (o rei Sol, Luís XIV). Para o sistema europeu, o mais importante foi o sistema interestados não ser mais governado por um arcabouço medieval. Sem dúvida, o mais importante resultado do final da guerra foi o surgimento de um sistema internacional de Estados. Estabelece-se um pressuposto de reciprocidades, um direito internacional com pactos regulando relações internacionais, com a livre navegação nos mares e a busca do não comprometimento do comércio e de civis na guerra. Os Estados deixam de sujeitar-se a normas morais externas a eles próprios e impõem uma lógica de dominação pragmática, que passou a ser conhecida desde então pela expressão “razão de Estado”. As relações internacionais são secularizadas, ou seja, estabelecidas em função do reconhecimento da soberania dos Estados, independentemente de sua confissão religiosa. Toda a política moderna e contemporânea, baseada no reconhecimento da legitimidade dos Estados e na constituição de um conjunto político de nações que se reconhecem como parte de um sistema em que rege um direito internacional, deriva do modelo criado e formalizado a partir da Paz de Westfália. Os Tratados de Westfália compõem um conjunto de 11 tratados, dos quais o primeiro foi entre a Espanha e os Países Baixos (30 de janeiro de 1648), em Münster. Alguns meses mais tarde firmou-se o tratado entre o Império (Fernando III), os príncipes germânicos (especialmente Brandemburgo e Bavária), a França, a Suécia e o Papado, em Osnabrück e Münster (24 de outubro de 1648). Proclamou-se uma anistia geral e os vitoriosos receberam concessões territoriais. A França ganha a Alsácia, estabelece sua fronteira na margem oeste do Reno e também ganha Metz, Toul e Verdun. A Suécia ganha o controle do Báltico e dos estuários dos rios Oder, Elba e Weser, assim como a Pomerânia ocidental, incluindo Stettin, o porto de Wismar, o arcebispado de Bremen e o bispado de Verdun. As Províncias Unidas e a Confederação Suíça são confirmadas como repúblicas independentes. Brandemburgo ganha a Pomerânia Oriental e mais alguns pequenos territórios, o que alicerça as bases do surgimento do principal Estado germânico, desde a sua fusão com o ducado da Prússia, que irá liderar, mais tarde, no século XIX, a Unificação Alemã. A Bavária ganha o Alto Palatinado e dignidade eleitoral no Império. Cerca de mais de trezentos Estados-membros do Império têm sua soberania fortalecida, com aumento do federalismo. Várias cláusulas visam garantir a “liberdade de comércio”, especialmente no rio Reno, que deveria permanecer aberto a todas as nações. A Paz de Augsburgo é confirmada, não só na Boêmia como em todo o Império, e estendida aos calvinistas, garantindo devoção privada, liberdade de consciência e direito de emigração. Tais disposições têm exceção e não se aplicam nas terras hereditárias dos Habsburgo, onde os príncipes devem abandonar suas terras se mudarem de religião. Além da destruição, da crise social e demográfica, das pilhagens, dos mercenários, o fim da guerra produziu um armistício na guerra de religiões, com a derrota da Espanha, do Papado e do Império. Este último, após a emergência da Prússia fortalecida e governada pela dinastia dos Hohenzollern, reduziu-se praticamente à Áustria e à Hungria, que continuaram sob o domínio Habsburgo. A unidade germânica fragmentou-se entre a Áustria imperial e os muitos estados da Alemanha, cuja unificação nacional foi bloqueada e retardada até o final do século XIX. A Espanha, além de ter de reconhecer a independência holandesa após uma guerra de 80 anos, passa a sofrer outras revoltas separatistas. Para Portugal, a Guerra dos Trinta Anos serviu para enfraquecer a União Ibérica, facilitando a retomada dos anseios de independência. A restauração nacional, com a dinastia de Bragança, por meio de D. João IV, proclamando a separação de Portugal da Espanha, foi garantida pelo enfraquecimento espanhol, derrotado nos Países Baixos e na Alemanha e obrigado a assinar os Tratados de Westfália. À derrota da corte ibérica seguiram-se várias rebeliões em regiões de sua dominação, particularmente na Catalunha, em Portugal e em Nápoles. A capacidade de Portugal enfrentar militarmente a Espanha e terminar vencendo, preservando sua autonomia nacional, deveu-se também ao apoio dos inimigos da Espanha, em especial a Inglaterra e os Países Baixos, que sustentaram o esforço da independência portuguesa finalmente reconhecida pela Espanha em 1652. A prática de um “equilíbrio de poder” passou a estabelecer-se entre as potências europeias e a garantia de uma Alemanha plurirreligiosa conformou um novo regime de tolerância negociada que encerrou finalmente, após mais de um século de guerra religiosa, a hostilidade bélica entre as diferentes confissões reformadas e o catolicismo. A reconversão religiosa de dissidentes por meios militares deixou de ser colocada como um objetivo viável. O modelo do pacto federativo que consegue estabilizar as diversas regiões e religiões da Alemanha é o mesmo que vai inspirar as relações entre as nações europeias. Desde essa época, o destino da Alemanha já era uma peça-chave do destino europeu e seu ordenamento, ao término da Guerra dos Trinta Anos, fundamentou a ordem europeia. Jean-Jacques Rousseau, em 1766, escrevia que “a Paz de Westfália pode seguir muito bem para sempre como a base de nosso sistema político”. Em 1866, o francês Alfonse Thiers afirmava que “o mais elevado princípio da política europeia é que a Alemanha deve estar formada por estados independentes reunidos apenas por um tênue tratado federativo. Tal foi o princípio proclamado por toda Europa na conferência de Westfália”.[6] Não obstante essas esperanças continuístas, foi um francês, Napoleão, quem questionou na prática, pela primeira vez, os princípios westfalianos, ao invadir a Prússia e abolir, em 1806, o Sacro Império. A Guerra dos Trinta Anos, travada sobretudo na Alemanha, envolveu toda a Europa e mudou a regra do jogo político internacional. A entrada da França na guerra, em aliança com a Suécia e a Holanda, estabeleceu a base da hegemonia continental francesa e do predomínio naval e comercial da Holanda. A fragmentação da Alemanha e sua unificação nacional tardia, só obtida sob Bismarck na segunda metade do século XIX, está na raiz dos grandes conflitos europeus do século XX. Sob a liderança da Prússia e no momento culminante da sua trajetória de unificação, a Alemanha derrota a França, em 1871, e recupera a Alsácia perdida desde o Tratado de Westfália. Esse evento, por sua vez, é uma das fontes decisivas da ruína do equilíbrio europeu e do desencadeamento das duas guerras mundiais no século XX. Notas [2] No texto República da Boêmia, de Pavel Stánsky, publicado em 1633, declara-se: “Foi então quando aprendemos pela primeira vez que nem a peste, nem a guerra, nem incursões hostis, nem a pilhagem nem o fogo podiam fazer tanto dano à boa gente como as frequentes mudaças de valor da moeda.” Em Goeffre Parker (ed.), La guerra de los treinta años, Madrid, Antonio Machado Libros 2003, tomo IV, 1964, p. 115). [3] Idem, p. 59. [4] A República das Províncias Unidas estabeleceu os seguintes tratados durante sua guerra com a Espanha: Inglaterra (1585); França (1589); Palatinado (1604); Brandemburgo (1605); Império Otomano (1611); Argel (1612); protestantes alemães (1613); cidades hanseáticas e Suécia (1614); Saboia (1616) e Veneza (1619). Idem, p. 4. [5] John Keegan, Uma história da guerra, São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 263. [6] Geoffre Parker (ed.), op. cit., p. 283. Bibliografia Arright, Giovanni; SILVER, Beverl. Caos e governabilidade no moderno sistema mundial. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora UFRJ, 2001. França, Eduardo d’Oliveira. Portugal na época da restauração. São Paulo Hucitec, 1997. GAXOTTE, Pierre. Histoire de l’Allemagne. Paris: Flammarion, 1963, v.1. HARTUNO, Frtiz. Historia de Alemanha en la epoca de la Reforma, de la Contrarreforma de la Guerra de los Treinta Años. México: Editorial Hispano-Americana, tomo IV, 1964. INGRAO, Charles W. The Habsburg Monarchy 1618-1815. 2o ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. KERGAN, John. Uma história da guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. PAGÈS, Georges. L´Allemagne et La Guerre de Trente Ans. Paris: Les Cours de la Sorbonne, Centre de Documentation Universitaire, s/d/e. PARKER, Geoffrey (ed.) La guerra de los treinta años: Madrid: Antonio Machado Libros, 2003.
Fonte: História das Guerras, Demétrio Magnoli, Ed. Contexto, pág. 163
- Nenhum comentário no momento - |
|---|
| Desde 3 de Agosto de 2008 |
|---|
