    |
|---|
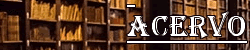       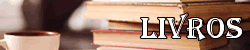 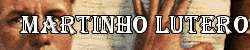   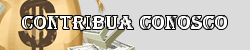  |
Categoria: Acervo No capítulo introdutório deste livro, referimo-nos ao debate entre os historiadores sobre a questão de a Reforma ter sido primordialmente medieval ou moderna em seu impulso e perspectiva básicos. Muitas vezes, aqueles que defendem a segunda hipótese – que a Reforma assinalou o despertar de uma nova era – fazem-no com uma sensação de júbilo por ter sido libertados das algemas da superstição e do dogmatismo, os quais pensa-se que caracterizaram a chamada “Idade das Trevas”. Adolf von Harnack, grande historiador da igreja, acreditava que a história total do dogma cristão havia culminado e sido transcendida na teologia de Lutero: Lutero foi o fim do dogma, da mesma forma que Cristo foi o término da lei! Entretanto, qualquer tentativa de avaliar a importância da teologia da Reforma para a igreja de hoje deve reconhecer a absoluta impossibilidade de tal visão. Contra a ostentação de Erasmo de que ele não se deleitava com asserções, Lutero respondia que as asserções, que ele definiu como uma constante devoção, afirmação, confissão, sustentação e perseverança, pertenciam à própria essência do cristianismo. “Devem-se desfrutar as asserções, ou então não ser um cristão.” Apesar de todas as suas críticas das doutrinas oficiais do catolicismo medieval, os reformadores viam-se numa ligação básica com os dogmas fundamentais da igreja primitiva. Contudo, os reformadores não repetiram simplesmente os dogmas clássicos do período patrístico. Eles consideraram necessário estendê-los e aplicá-los ao âmbito da soteriologia e da eclesiologia. Por exemplo, no Concílio de Nicéia (325), os teólogos da igreja primitiva confessaram Jesus Cristo como homoousios, “da mesma essência”, com o Pai. Eles estavam preocupados – em oposição ao arianismo, com sua concepção mitológica de Jesus Cristo como nem inteiramente humano, nem inteiramente divino – com o ser e a natureza do Filho encarnado. Os reformadores concordavam plenamente com essa introvisão, mas a aplicaram à questão da salvação em Cristo. Por outras palavras, estavam mais preocupados com a obra de Cristo do que com a pessoa de Cristo. Conhecer a Cristo, dizia Melanchthon, não é investigar os modos de sua encarnação; conhecer a Cristo é conhecer seus benefícios. A igreja primitiva havia enfatizado que, quando Deus revelou-se em Jesus Cristo, ninguém mais, além de Deus, em seu próprio ser divino, foi revelado. Os reformadores declararam que, quando Deus resgatou os seres humanos decaídos de seu pecado e alienação, o próprio Deus estava operando em seus atos de graça salvífica. Essas ênfases não são contraditórias, mas complementares. De fato, as doutrinas reformadas da justificação e da eleição não apenas são inconcebíveis à parte da base do consenso trinitário e cristológico, próprio da igreja primitiva, mas também constituem o resultado e a aplicação necessários de tal consenso. Com o movimento histórico, a Reforma do século XVI encontra-se agora no passado. Obviamente, ainda podemos aprender muito sobre suas causas e efeitos, à medida que estudamos os fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que a tornaram uma época tão central na história da civilização ocidental. Entretanto, como movimento do Espírito de Deus, a Reforma possui um significado permanente para a igreja de Jesus Cristo. Esse tem sido nosso interesse básico ao longo deste livro, e devemos enfocá-lo agora, nestas páginas finais. Temos de perguntar não apenas o que significou, mas também o que significa. Como a teologia dos reformadores pode desafiar, corrigir e orientar nossos próprios esforços por teologizar fielmente com base na Palavra de Deus? Assim como os reformadores acharam necessário voltar à Bíblia e à igreja primitiva a fim de abordar a crise espiritual de seus dias, da mesma forma não podemos negligenciar os temas fundamentais da Reforma ao buscarmos proclamar a boa nova de Jesus Cristo em nossa época. Isso não significa que podemos simplesmente repetir as fórmulas teológicas dos reformadores, como se nós mesmos estivéssemos vivendo no século XVI ou XVII, em vez de no século XX. A bem da verdade, “Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre” (Hb 13.8). Da mesma forma, as ansiedades da culpa, da morte e da falta de sentido afligem os homens e mulheres modernos tão severamente quanto acontecia com príncipes e camponeses na baixa Idade Média. Entretanto, o modo como sentimos essas ansiedades mudou. Ademais, deparamo-nos com realidades novas e ainda mais temíveis, tais como a possibilidade de um genocídio pela auto-aniquilação nuclear. O espectro de hecatombes múltiplas tem abalado a sensibilidade dos humanistas mais otimistas. Num mundo de campos de concentração e terrorismo, de fome em massa e de AIDS, o cristão enfrenta a mesma pergunta que foi feita às crianças de Israel durante seu cativeiro na Babilônia: “Agora, onde está o vosso Deus?“. Hoje somos tentados a responder a essa questão levando em conta as possibilidades inerentes à nossa própria condição humana, a extrapolar nossa teologia para fora de nossa razão ou experiência, nossa filosofia ou cosmovisão. A futilidade e ruína absoluta dessa perspectiva fica evidente no tipo de modismo teológico que resultou no que Thomas J. J. Altizer, não famoso por seu tradicionalismo, chamou de “um momento de profundo colapso teológico […] o momento derradeiro de colapso da tradição teológica no Ocidente”. [2] Os reformadores lembram-nos de que Deus deve ser encontrado por nós somente onde lhe agrada buscar-nos. Todos os nossos esforços por encontrar Deus dentro de nós mesmos resultam apenas em especulações e projeções infundadas, que, por fim, tornam-se idolatria. A validade permanente da teologia da Reforma é que, apesar das muitas ênfases variadas que contém dentro de si, ela desafia a igreja a ouvir reverente e obedientemente aquilo que Deus disse de uma vez por todas (Deus dixit) e de uma vez por todas fez em Jesus Cristo. O modo como a igreja reagirá a esse desafio não diz respeito a especulações acadêmicas ou habilidades eclesiásticas. É uma questão de vida ou morte. É a decisão quanto ao fato de a igreja servir o Deus de Jesus Cristo verdadeiro e vivo, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, caso contrário sucumbirá à adoração de Baal. Soberania e Cristologia Entretanto, a doutrina reformada básica da eleição ou da predestinação sobressaía-se como uma testemunha inequívoca da soberania de Deus na salvação humana. Essa era, e continuou a ser, uma pedra de tropeço importante para aqueles que viam nisso uma restrição prejudicial da liberdade e da moralidade humanas. Os reformadores, porém, encontraram nesse ensino uma libertação formidável do insuportável fardo da autojustificação. Eles viam os seres humanos tão profundamente escravizados pelo pecado que somente a graça soberana de Deus poderia verdadeiramente libertá-los. Dois famosos tratados de Lutero, A Liberdade do Cristão, de 1520, e A Escravidão da Vontade, de 1525, constituem dois lados da mesma moeda. A eleição merecida e incompreensível de Deus é a única base real para a liberdade humana! Nenhum dos reformadores tinha a menor intenção de denegrir a participação humana no processo da salvação. Agostinho dissera que, embora Deus não nos salve por nós mesmos, também não nos salva sem nós. A doutrina da justificação pela fé pressupõe a apropriação subjetiva do dom divino da salvação, mas também reconhece que mesmo aquela fé pela qual somos justificados é, em si mesma, semelhantemente um dom. Conforme Lutero expressou em seu prefácio à Epístola aos Romanos: “A fé é uma obra divina em nós, que nos transforma e nos faz renascer de Deus […] ah, que coisa viva, inquieta, ativa, poderosa é essa fé“. [3] Deus é o Senhor soberano não somente na redenção, mas também na criação. Todos os reformadores, até Menno, rejeitavam às tendências panteístas de certas correntes do misticismo da baixa Idade Média. Eles afirmaram a doutrina patrística da creatio ex nihilo. A distinção absoluta entre Criador e criatura era fundamental para a teologia inteira de Zuínglio. De todos os reformadores, ele desenvolveu a mais elaborada e filosoficamente notificada doutrina da providência (cf. seu tratado De Providentia Dei, 1529). Todos os reformadores, porém, evitaram o conceito daquilo que Calvino chamou de “o deus ocioso” (deus otiosus), uma divindade distante e altiva que criou o mundo, mas que raramente, interferia em seus acontecimentos, se é que o fazia. Tal deus semelhava-se às divindades da mitologia grega ou mesmo à noção estóica do destino impessoal, e não ao Deus bíblico que atua em julgamento e libertação. Os reformadores estavam bastante dispostos a admitir que nem sempre (talvez nem mesmo com muita freqüência) entendemos como a providência de Deus opera nos trágicos sofrimentos e revéses de nossa existência terrena. Calvino falou sobre a “providência nua” de Deus e Lutero referiu-se à “mão esquerda” de Deus, e até ao “Deus oculto”. Os anabatistas estavam convencidos de que, de alguma forma (embora não afirmassem saber qual), Deus usaria os sofrimentos e as perseguições deles em seu propósito redentor para a humanidade. De fato, quem poderia ter imaginado que, naquele imenso erro de justiça ocorrido no Calvário, Deus estava em ação, reconciliando o mundo consigo mesmo? Nossa inquietação moderna com a doutrina reformada da providência deriva, em parte, de nossa ânsia desordenada por clareza. Não conseguimos entender como um Deus soberano poderia permitir o sofrimento inocente. “Não fique aí parado. Faça alguma coisa!” – é ao mesmo tempo oração e protesto. Preferiríamos um Deus que pudéssemos entender ou, pelo menos, gostar, um Deus que pudéssemos considerar responsável, ou um Deus limitado que lutasse conosco contra o caos, mas que, no fim, fosse impotente demais para evitá-lo ou até mesmo dominá-lo. Os reformadores sentiram a força de teodicéias semelhantes em seus próprios dias. Não ignoravam – e qual o leitor dos salmos que ignora? – os protestos veementes contra uma providência inescrutável. Calvino admitiu que não há fé verdadeira que não seja tangida pela dúvida. Nas agonias de seu Anfechtungen, o próprio Lutero havia clamado: “Meu Deus, meu Deus […] por quê?“. No final, porém, conforme Calvino o expressou, as explosões iradas contra os céus são como cuspir para cima. O Deus com quem nos relacionamos não é um Deus que possamos explicar, manipular ou domesticar. “O nosso Deus é fogo consumidor” (Hb 12.29). Os reformadores não apresentam uma “resposta” mais adequada ao problema do mal do que os profetas ou os apóstolos. Em vez disso, indicam-nos o Deus que subsiste em meio às provações, o Deus que não apenas “faz alguma coisa”, mas que, de fato, “está aí” em sua compaixão soberana, o Deus que permanece ao nosso lado e segue à nossa frente, que promete nunca nos abandonar, mesmo – especialmente – quando todos os indícios mostram o contrário. Apesar de toda a sua ênfase na prioridade e na autoridade absoluta do Deus vivo, os reformadores não entendiam a soberania num sentido abstrato ou metafísico. Eles não estavam interessados em penetrar a essência de Deus, nem em falar sobre o “poder absoluto” de Deus ou a respeito da onipotência cabal. A soberania de Deus foi qualificada e concretizada na existência histórica de Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus. Cada um dos reformadores possuía um modo próprio de expressar a centralidade de Jesus Cristo. Lutero declarou que “a única glória dos cristãos estava apenas em Cristo”. [4] Essa “glória”, contudo, era manifestada à medida que o “querido Senhor Cristo” identificava-se com as profundezas da condição humana. Lutero recusou-se a separar a inferioridade humana de Cristo de seu poder divino. Os hinos de Natal de Lutero retratam vividamente a auto-humilhação do Deus todo-poderoso, o qual na pessoa de seu Filho, assumiu em si mesmo nossa carne humana pecaminosa: O único Filho do Pai eterno Zuínglio distinguiu a humanidade e a divindade de Cristo de forma mais precisa que Lutero, colocando maior ênfase na última, que ele considerou como o elemento crucial na obtenção da salvação. Conforme vimos, essa diferença cristológica foi um fator básico na discordância desses dois reformadores sobre a eucarístia. A concepção de Lutero acerca da onipresença do corpo de Cristo era inconcebível para Zuínglio, que insistia na presença localizada do corpo ressurreto de Cristo à direita do Pai. A teologia de Zuínglio, porém, não era menos cristocêntrica do que a de Lutero. No terceiro dos Sessenta e Sete Artigos, Zuínglio insistiu que “Cristo é o único caminho que leva à salvação para todos os que existiram, existem e existirão“. [6] Nem mesmo os chamados gentios piedosos, os quais Zuínglio supôs que poderíamos encontrar entre nossos próximos nos céus, têm permissão de subir por “algum outro caminho”, mas são, assim como todos os pecadores, eleitos mediante a graça de Deus e redimidos por intermédio da morte expiatória de Cristo. Com Calvino, a ligação entre a soberania de Deus e a cristologia tornou-se manifesta quando ele designou Jesus Cristo como o speculum electionis, o “espelho da eleição”. Em seu papel como Mediador entre Deus e os seres humanos, Cristo é, de fato, um espelho de duas faces. Em primeiro lugar, como o Eleito, o especialmente Escolhido e Predestinado, ele é o espelho pelo qual Deus considera aqueles que são reconciliados mediante seu Filho. Entretanto, Jesus Cristo é também o espelho pelo qual os cristãos buscam encontrar a certeza de sua própria eleição. Em nosso próprio século, Karl Barth (Church Dogmatcis II/2) baseou-se na introvisão de Calvino, estendendo-a ainda mais em sua análise de Jesus Cristo como o paradigma da eleição da humanidade. Assim como Zuínglio acreditava que a doutrina de Lutero acerca da ubiqüidade do corpo de Cristo denegria a realidade de sua humanidade elevada, da mesma forma Calvino opôs-se à doutrina de Menno sobre a “carne celestial” de Cristo, considerando-a perigosamente docética. O entendimento de Calvino acerca da expiação pressupunha a participação total do Cristo encarnado na condição humana. Isso exigia que ele tivesse nascido não apenas “da” virgem Maria, mas também “como parte” dela. Embora tenhamos de concordar com a ênfase de Calvino aqui, devemos observar que a preocupação de Menno em salvaguardar o caráter sem pecado de Cristo não derivava de alguma depreciação gnóstica do reino criado, mas sim, de seu desejo de proteger a eficácia salvífica do sacrifício que Cristo fez de si mesmo na cruz. Ao lado dessa insistência na objetividade da expiação, que ele compartilhava com os outros reformadores, Menno apontou para a vida e para a morte de Cristo como um modelo de sofrimento e autoconsumo ao qual os cristãos devem-se adaptar. As diferentes nuanças cristológicas entre os reformadores eram substanciais e importantes, mas o texto favorito de Menno (1 Co 3.11) poderia servir de tema básico para cada uma delas: a revelação de Deus em Jesus Cristo é o único fundamento, o único critério obrigatório e exclusivo, para a vida cristã e para a teologia cristã. A partir dessa perspectiva, Jesus Cristo não é simplesmente uma idéia religiosa, nem mesmo a melhor idéia religiosa em meio a muitas entre as quais somos livres para escolher; Jesus Cristo é a concretização efetiva, no tempo e no espaço, da decisão soberana que Deus tomou de ser nosso Deus, de ser por nós, e não contra nós, de salvar de nós mesmos e dos poderes que visam a nossa destruição, e, finalmente, de nos receber para a participação e para a fraternidade com ele. Todos os reformadores concordam em que a teologia, desde que verdadeira em si mesma, encontra tanto seu ponto de partida quanto sua meta final no único fundamentum autêntico, Jesus Cristo, seu Senhor. Essa perspectiva encontra-se expressa de maneira harmoniosa na primeira pergunta e resposta do Catecismo de Heidelberg (1563): P:Qual é seu único consolo na vida e na morte? Escrituras e Eclesiologia No século XVI, a inspiração e a autoridade das Escrituras Sagradas não era um ponto de debate entre católicos e protestantes. Todos os reformadores, até mesmo os radicais, aceitavam a origem divina e o caráter infalível da Bíblia. A questão que surgiu na Reforma foi sobre o modo como a autoridade divinamente comprovada das Escrituras Sagradas estava relacionada à autoridade da igreja e da tradição eclesiástica (católicos romanos), por um lado, e ao poder da experiência pessoal (espiritualistas), pelo outro. O sola do sola scriptura não pretendia desprezar completamente o valor da tradição da igreja, mas sim subordiná-la à primazia das Escrituras Sagradas. Enquanto a Igreja Romana recorria ao testemunho da igreja a fim de validar a autoridade das Escrituras canônicas, os reformadores protestantes insistiam em que a Bíblia era autolegitimadora, isto é, considerada fidedigna com base em sua própria perspicuidade (cf. Klarheit, de Zuínglio), comprovada pelo testemunho íntimo do Espírito Santo. O Artigo V da Confissão Belga (1561) levanta a questão de como uma pessoa chega a aceitar a dignidade e a autoridade dos livros canônicos. A resposta apresentada é a seguinte: “… não tanto porque a igreja os receba e aprove como tais, porém mais especialmente porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que são de Deus, a respeito do que trazem a prova em si mesmos“. [9] Ao insistir na correlação entre Palavra e Espírito, os reformadores principais também distanciavam-se dos espiritualistas, que colocavam sua própria experiência religiosa pessoal acima da revelação de Deus objetivamente dada. Até Menno, para quem a experiência da regeneração era fundamental à sua teologia inteira, opôs-se a David Joris e outros radicais espiritualizadores, porque as visões e revelações privatizadas deles iam contra a vontade manifesta de Deus em sua Palavra escrita. A segunda das “Dez Conclusões de Berna” (1528) expressa esse biblicismo evidente que dominava, ainda que com resultados diferentes, tanto a eclesiologia reformada quanto a anabatista: “A igreja de Cristo não faz leis ou mandamentos à parte da Palavra de Deus; portanto, não estamos sujeitos às tradições humanas, exceto na medida em que fundamentam-se ou encontram-se prescritas na Palavra de Deus“. [10] Na perspectiva da Reforma, então, a igreja de Jesus Cristo é aquela comunhão de santos e congregação dos fiéis que ouviram a Palavra de Deus nas Escrituras Sagradas e que, com o serviço obediente a seu Senhor, prestam testemunho dessa Palavra ao mundo. Devemos lembrar-nos de que a igreja não começou com a Reforma. Os reformadores pretendiam voltar à concepção neotestamentária de igreja, expurgar e purificar a igreja de seus dias segundo a norma das Escrituras Sagradas. Até os anabatistas, os quais sentiam que um começo absolutamente novo era necessário, conservaram – mesmo enquanto se transmudavam – mais da tradição e da teologia dos pais e dos credos do que pensavam. Embora não devamos ser privados das difíceis vitórias conquistadas pelos reformadores no interesse de um ecumenismo simplificado, celebramos e participamos da busca pela unidade cristã justamente porque consideramos com seriedade o conceito reformado da igreja – ecclesia semper reformanda, não simplesmente numa igreja reformada de uma vez por todas, mas sim uma igreja a ser continuamente reformada, uma igreja sempre necessitando de uma reforma a mais com base na Palavra de Deus. Os reformadores eram grandes exegetas das Escrituras Sagradas. Suas obras teológicas mais incisivas encontram-se em seus sermões e comentários bíblicos. Eles estavam convencidos de que a proclamação da igreja cristã não poderia originar-se da filosofia ou de qualquer cosmovisão auto-elaborada. Não poderia ser nada menos que uma interpretação das Escrituras. Nenhuma outra proclamação possui direito ou esperança na igreja. Uma teologia que se baseia na doutrina reformada das Escrituras Sagradas não tem nada a temer com as descobertas precisas dos estudos bíblicos modernos. Calvino não via contradição alguma em afirmar simultaneamente a origem divina da Bíblia (“ditada pelo Espírito Santo”) e seu caráter adaptado (Deus “balbucia” como uma ama a um bebê). Com tal perspectiva, veremos a Bíblia não como o simples registro de pensamentos humanos acerca de Deus, mas como o repositório dos pensamentos de Deus sobre os seres humanos – e das exigências e promessas dele a eles. Conforme Karl Barth disse, “[as Escrituras] declaram que, após Deus ter nos buscado na maravilha de sua condescendência em Jesus Cristo, cujas testemunhas são os profetas e apóstolos, todos nossos esforços por encontrá-lo dentro de nossos íntimos não apenas tornaram-se infundados, mas provaram ser impossíveis em si mesmos“. [11] Culto e Espiritualidade Como parte de seu protesto contra o domínio clerical da igreja, os reformadores visavam a uma participação total no culto. Sua reintrodução da língua do povo era em si mesma revolucionária, pois exigia que o culto divino fosse oferecido ao Deus Todo-Poderoso na língua usada por negociantes, no mercado, e por maridos e esposas, na privacidade de seus quartos. A intenção dos reformadores não era tanto secularizar o culto, quanto santificar a vida comum. Assim, Calvino advertiu que qualquer pessoa que negligenciasse orar particularmente engendraria apenas “preces cheias de vento” na assembléia pública (Inst., III, XX, 29). A oração era “o principal exercício da fé”; assim, toda a vida cristã deveria ser inundada de preces e ações de graças a Deus. Vimos como os reformadores reduziram os sacramentos medievais de sete para dois. Observamos também como, em relação a esses dois, o batismo e a ceia do Senhor, as diferenças entre os reformadores tornaram-se um obstáculo fundamental para a unidade entre eles. Os anabatistas insistiam em que o batismo era conseqüente à fé e negavam ainda que os bebês pudessem recebê-la adequadamente, seja a fé pressuposta (Lutero), paterna (Zuínglio) ou parcial (Calvino). Assim, eles voltaram para a prática do batismo da igreja primitiva, como um rito de iniciação de adultos significando uma participação comprometida na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. O sentido ecumênico da doutrina anabatista do batismo é reconhecido na declaração Batismo, Eucaristia e Ministério, da Comissão de Fé e Ordem do Conselho Mundial de Igrejas. Embora admitindo a validade tanto do batismo infantil quanto daquele do crente, afirma-se que “o batismo mediante profissão de fé pessoal é o padrão mais claramente comprovado nos documentos do Novo Testamento“. [12] Por outro lado, em algumas tradições que declaram firmemente o batismo do crente como uma distinção denominacional, o rito em si tornou-se atenuado e separado do contexto de um compromisso de vida resoluto. Isso reflete-se tanto na disposição litúrgica do batismo no culto – muitas vezes acrescentado no final, como um tipo de reflexão posterior – quanto na idade e na preparação adequadas dos candidatos ao batismo. Por exemplo, há diversos anos, a idade média para o batismo na Convenção Batista do Sul (Estados Unidos) era oito, havendo inúmeros batismos de crianças que tinham de cinco anos para baixo. A prática de tal “batismo de criancinhas” não pode ser justificada nem com base na principal doutrina reformada do batismo infantil, nem pelo fundamento lógico anabatista de que o batismo é o voto público de discipulado dentro da congregação da aliança. Como corretivo para o papel casual atribuído ao batismo em grande parte da vida eclesiástica contemporânea, podemos apropriar-nos de duas questões centrais nas doutrinas reformadas do batismo: com os anabatistas, podemos aprender a ligação intrínseca entre batismo, arrependimento e fé; com os reformadores principais (embora mais com Lutero e Calvino do que com Zuínglio), podemos aprender que, no batismo, não só dizemos algo a Deus e à comunidade cristã, mas Deus também fala e faz algo por nós, pois o batismo é tanto o dom de Deus quanto nossa resposta humana a esse dom. Mesmo para muitas igrejas que são mutuamente capazes de reconhecer suas diversas práticas de batismo, a participação total da Eucaristia só pode ser desejada como um alvo ainda não atingido. Não é fácil evitar esse sério problema ecumênico, nem é possível ignorar as cicatrizes que permanecem das controvérsias do século XVI sobre o significado de hoc est corpus meum. No Iluminismo, Voltaire ridicularizou muito os cristãos, porque aquela ceia que deveria simbolizar sua unidade e amor uns pelos outros tornara-se a causa de disputas reciprocamente destrutivas. Os católicos diziam que comiam Deus; enquanto os calvinistas declaravam que comiam o pão e Deus! “Ora“, disparava Voltaire, “se alguém nos falasse de uma polêmica assim entre os hotentotes, nós não acreditaríamos!“ Que podemos aprender dos debates da Reforma sobre a ceia do Senhor? Em primeiro lugar, precisamos recuperar uma teologia da presença. Para muitos protestantes, a celebração da sagrada comunhão possui implicações diferentes de um culto fúnebre – uma observância solene respeitosamente realizada em memória de um Senhor ausente. Lutero estava certo ao insistir na presença real, mesmo sendo imprópria sua linguagem sobre a mastigação do corpo de Cristo. A ênfase de Calvino no papel que o Espírito Santo desempenha no culto eucarístico, e na elevação de nossos corações (sursum corda) na adoração, na ação de graças e no louvor, aponta para além da – também válida – dimensão memorialista ressaltada por Zuínglio. A ceia do Senhor não é “meramente” um símbolo. A bem da verdade, é um símbolo, mas é um símbolo que transmite aquilo que significa. Ao receber a Eucaristia, nós “espiritualmetne recebemos e somos alimentados com o Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte: estando o corpo e o sangue de Cristo presentes para a fé dos cristãos, não de forma corporal ou carnal, mas espiritual“. Essa fórmula, que faz eco à linguagem do Livro de Oração Comum, de 1549, sobre “alimentar-se de Cristo em seu coração pela fé”, encontra-se, na verdade, na Segunda Confissão de Londres (1677) dos batistas ingleses. [13] Em segundo lugar, precisamos voltar à prática da comunhão mais freqüente. Talvez os primeiros cristãos celebrassem a ceia do Senhor diariamente (At 2.42, 46) e, com certeza, toda semana. Ao longo dos séculos, o compartilhar regular da ceia tornou-se prerrogativa exclusiva de monges e padres, de modo que, na baixa Idade Média, esperava-se do povo apenas a comunhão anual da Páscoa. Os reformadores tentaram incentivar uma participação mais completa e uma celebração mais freqüente da ceia do Senhor. A princípio, Lutero advogou sua celebração diária, embora ele mais tarde se decidisse por uma observância semanal. Os conselhos municipais de Zurique e Genebra legislavam uma comunhão trimestral: Zuínglio satisfez-se com esse melhoramento modesto da prática medieval, enquanto Calvino insistia sem êxito numa celebração semanal. A Confissão de Schleitheim refere-se ao “partir do pão” como uma das marcas distintivas da verdadeira igreja, embora a freqüência com que os anabatistas celebravam a ceia provavelmente dependesse do caráter ad hoc e clandestino de seus cultos, suscitado pela ameaça de perseguição iminente. Se a ceia do Senhor nos é dada como “alimento e sustento diários para revigorar-nos e fortificar-nos” (Lutero), se ela “sustenta e aumenta a fé” (Zuínglio), se é um “banquete espiritual” (Calvino) e a “boda na qual Jesus Cristo está presente com sua graça, Espírito e promessa” (Menno), então negligenciar seu compartilhar freqüente no contexto do culto é rejeitar o sinal externo da graça de Deus, para nosso empobrecimento espiritual. Em terceiro lugar, precisamos restabelecer o equilíbrio entre Palavra e sacramento no culto cristão. Os reformadores não inventaram o sermão, mas elevaram a pregação a um papel central no culto divino. A leitura solene e bem articulada das Escrituras Sagradas também recebeu uma posição proeminente. Ao mesmo tempo, eles acreditavam que a Palavra de Deus ouvida na Bíblia deveria ser acompanhada pelas correspondentes “palavras visíveis” de Deus nos sacramentos. Isso foi expresso sucintamente na Confissão de Augsburgo (1530): “Onde o evangelho é pregado em sua pureza e os sacramentos sagrados, ministrados de acordo com a Palavra divina, aí está a igreja verdadeira“. [14] Nos últimos anos, ocorreu uma inversão oportuna nos padrões do culto. A “Constituição a Respeito da Liturgia Sagrada”, do Concílio Vaticano II (1963), reconheceu que “é especialmente necessário que haja íntimos elos entre a liturgia, a catequese, a instrução religiosa e a pregação“. [15] Desde então, muitas congregações católicas romanas têm enfatizado a importância decisiva da liturgia da Palavra no culto cristão. Ao mesmo tempo, diversas congregações protestantes recuperaram uma nova valorização do papel central da eucaristia no culto cristão. Cada uma dessas tendência é um sinal encorajador. À medida que Cristo reúne seu povo em memória, ao redor do púlpito e da mesa, seremos realmente capazes de adorá-lo em espírito e em verdade. Cada um dos reformadores que estudamos incorporou um tema de espiritualidade diferente, se não insólito, o qual tanto moldou a expressão teológica particular adotada quanto foi por ela moldado. Para Lutero, era a sensação de júbilo e liberdade com o perdão dos pecados; para Zuínglio, era a religião pura e o serviço obediente ao único Deus verdadeiro. A espiritualidade de Calvino estava concentrada naquele senso de temor e de admiração perante a glória de Deus, essencial à piedade adequada; a de Menno enfocava o discipulado fiel, que significava seguir a Jesus compartilhando de seu sofrimento. Para cada um deles, a vida em si era litúrgica. A pregação, a oração, o louvor e os sacramentos eram expressões comuns de fé e da devoção, originárias das vidas transformadas de homens e mulheres que haviam sido apanhados pela graça de Deus. O culto cristão contemporâneo é motivado e julgado por padrões diversos: seu valor de entretenimento, seu suposto apelo evangélico, sua fascinação estética, até mesmo, talvez, seu rendimento econômico. A herança litúrgica da Reforma faz-nos recordar a convicção de que, acima de tudo, o culto deve servir para o louvor do Deus vivo. Ética e Escatologia Em primeiro lugar, há a noção luterana da fé ativa no amor. Ao insistir com tanta firmeza na justificação somente pela fé, Lutero foi capaz de libertar a ética do opressivo sistema de justiça pelas obras, no qual estivera emaranhada na teologia católica medieval. Nesse esquema, a realização de boas obras era essencialmente um modo de acumular méritos e, assim, assegurar uma posição diante de Deus. O amor de um indivíduo pelo próximo envolvia inevitavelmente uma manipulação odiosa e egoísta do outro, visando à recompensa pessoal (i.e., à própria salvação). A doutrina de Lutero solapou esse sistema e libertou o pecador justificado (ou santo) para amar o próximo desinteressadamente e sem reservas – pelo bem do próximo. A fé verdadeira, Lutero sustentava, não estava adormecida, mas viva e ativa no amor. Embora a doutrina de Lutero acerca dos dois reinos o impedisse de ser muito otimista quanto à possibilidade de melhorar significativamente este atual mundo decaído, ele nunca se esqueceu da responsabilidade que os cristãos tinham de se estender em amor, de ser “pequenos Cristos”, conforme ele expressou, para seus próximos. Isso aplicava-se especialmente à vida familiar, pois o cônjuge, ele disse, era o próximo mais íntimo de uma pessoa. Lutero nos lembra que a ética deve provir de um fundamento teológico adequado, e não vice-versa: as boas obras são uma conseqüência da iniciativa graciosa de Deus em Jesus Cristo, não sua causa ou condição. Quando passamos de Lutero para a tradição reformada, conforme representada por Zuínglio e Calvino, encontramos preocupações éticas expressas no que pode ser chamado de a santidade do secular. Hoje, a palavra secular passou a significar irreligioso e mesmo antiDeus, como em “humanismo secular”. Contudo, o termo latino saeculum significa apenas o mundo, o mundo que, apesar de sua condição decaída, ainda assim é, como Calvino o chamou, “o teatro da glória de Deus”. Observamos como, para Zuínglio, essa ênfase significava uma reestruturação da vida política, social e econômica, de acordo com as normas do evangelho. Para Calvino, isso envolvia a concepção de um magistrado piedoso, onde o governante humano, seja ele um monarca absoluto ou um conselho municipal, era considerado o vice-regente de Deus. O conceito reformado da santidade do secular exerceu uma influência importante no desenvolvimento da ética social cristã a partir da Reforma. John Wesley mostrou-se herdeiro dessa tradição, quando exclamou: “O mundo é minha paróquia”. Walter Rauschenbusch articulou essa questão em seu entusiasmo pelo “evangelho social”, que (conforme Rauschenbusch usou o termo) não significava outro evangelho separado do evangelho único e singular de Jesus Cristo, mas simplesmente que esse evangelho não deve ser isolado em algum gueto religioso; antes, tem de ser levado para os verdadeiros guetos e favelas de nosso mundo. Com apenas um pouco de exagero, podemos dizer que, enquanto Lutero aceitava o mundo como um mal necessário, Zuínglio e Calvino procuravam conquistar o mundo, transformar e reformá-lo com base na Palavra de Deus, porque ele era o teatro da glória de Deus. Mesmo Simons e a tradição anabatista apresentam-nos mais uma imposição ética: confronto com a cultura. Aos reformadores principais, os anabatistas disseram: “Vocês nos deram apenas uma reforma parcial, pois continuam sustentando a igreja com o Estado. Vocês ainda dão a César o que é de Deus. Mas Jesus chamou-nos para um plano de ação diferente”. Assim, eles se recusavam a prestar juramento, porque Jesus disse: “Não jurareis”. Eles se recusavam a se alistar, a carregar a espada, porque Jesus disse: “Amem seus inimigos, sigam o caminho da cruz, não o caminho da espada”. Eles se recusavam a batizar seus bebês, algo que, no século XVI, era não só herético, mas também traidor. Conseqüentemente, milhares de anabatistas foram queimados vivos ou afogados nos rios, lagos e regatos da Europa. A visão anabatista é uma correção da ética dos reformadores principais. Ela lembra-nos de que a santificação do secular nunca deve significar simplesmente aspersão de água santa no status quo, mas sempre enfrentar a cultura com as ordens radicais de Jesus Cristo. Qual dessas orientações éticas é certa para a igreja hoje? Nenhuma delas é suficiente por si só, pois cada uma mostra-se suscetível à sua própria distorção. A insistência luterana na prioridade da fé sobre as obras pode degenerar para um mero formalismo, pois uma doutrina pura sem um viver piedoso sempre resulta numa ortodoxia morta. A ênfase reformada no envolvimento no mundo pode transformar a igreja em pouco mais do que uma junta de ação política ou uma organização de serviço social, enquanto a crítica anabatista da cultura pode decair para um separatismo improdutivo, que esqueceu seu sentido de missão. Temos muito a aprender com cada uma dessas tradições, mas não estamos presos a nenhuma delas. Estamos presos apenas a Jesus Cristo. A igreja é communio sanctorum, comunhão de pecadores salvos, fundamentada no evangelho da livre graça de Deus em Jesus Cristo, enviada ao mundo pelo qual Cristo morreu, para eternamente enfrentar esse mundo em testemunho e serviço, com as ordens absolutas de Cristo. Apesar de toda sua ênfase no retorno à igreja primitiva do Novo Testamento e da época patrística, a Reforma consistiu essencialmente num movimento visando ao futuro. Foi um movimento dos “últimos dias”, vividos numa forte tensão escatológica entre o “não mais” da antiga dispensação e o “ainda não” do reino perfeito de Deus. Nenhum dos reformadores que estudamos esteve muito envolvido com as escatologias apocalípticas radicais que floresceram no século XVI. Nenhum deles escreveu um comentário sobre o Livro do Apocalipse. Mas cada um deles estava convencido de que o reino de Deus irrompia na história nos eventos em que ele foi levado a desempenhar um papel. Inundado por essa percepção de urgência escatológica, Calvino, em 1543, escreveu ao Santo Imperador Romano Carlos V: “A Reforma da igreja é obra de Deus, sendo tão independente da vida e do pensamento humanos quanto a ressurreição dos mortos, ou quanto qualquer obra assim“. Hoje, reconhecemos a verdade da declaração de Calvino e agradecemos a Deus o modo como sua glória e o poder de sua Palavra resplandeceram na teologia dos reformadores, muito embora também confessemos com John Robinson, pastor dos imigrantes puritanos ingleses nos Estados Unidos, que “o Senhor ainda tem mais verdade e luz para irromper de sua santa Palavra”. Um famoso documento de nossa época expressou o âmago da fé reformada e a esperança pela qual a igreja de Jesus Cristo presta testemunho: Aos que perguntam “Que acontecerá ao mundo?”, respondemos: “Seu reino está chegando”. Aos que perguntam “Que está diante de nós?”, respondemos: “Ele, o Rei, está diante de nós”. Aos que perguntam “Que podemos esperar?”, respondemos: “Não nos encontramos à frente de um deserto inexplorado de tempo não-cumprido, com um objetivo que ninguém ousaria predizer; estamos fitando nosso Senhor vivo, nosso Juiz e Salvador, que estava morto e vive para todo o sempre; fitamos aquele que veio e virá, e que reinará eternamente. Talvez encontremos aflições; sim, isso deve ocorrer, se queremos participar dele. Mas sabemos sua palavra, sua palavra régia: “Não se turbe […] eu venci o mundo”. [16] 1. Citado de Bainton, Erasmus, p. 195. 2. Mark C. Taylor, Deconstructing Theology (Nova Iorque: Crossroad, 1982), p. xi. 3. LW 35, p. 370; WA DB 7, p. 10. 4. WA 13, p. 570: “Unica Christianorum gloria est in solo Christo”. 5. WA 35, p. 434. 6. Z 1, p. 458: “Dannenher der einig weeg zur säligkeit Christus ist aller, die ie warend, sind und werdend”. 7. Philip Schaff, ed. Creeds of Christendom (Nova Iorque: Harper and Bros., 1877), III, pp. 307-308. 8. John Bunyan, Grace Abounding to the Chief of Sinners (Londres: Oxford University Press, 1928), p. 5. 9. Schaff, III, pp. 386-387. 10. John H. Leith, ed. Creeds of the Churches (Atlanta: John Knox Press, 1982), pp. 129-130. 11. Karl Barth, “Reformation as Decision”, in: The Reformation: Basic Interpretations, ed. Lewis W. Spitz (Lexington, Mass.: D. C. Heath, 1962), p. 161. 12. Leith, p. 610. 13. W. L. Lumpkin, ed., Baptist Confessions of Faith (Valley Forge: Judson Press, 1959), p. 293. 14. Leith, p. 70. 15. Austin Flannery, ed., Vatican Council II: The Conciliar and Post-conciliar Documents (Collegeville, Minn.: THe Liturgical Press, 1975), p. 46. 16. “Christus, Die Hoffnung für die Welt”, citado em Jan M. Lochman, Living Roots of Reformation (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1979), p. 65.
Fonte: Teologia dos Reformadores, Editora Vida Nova, Timothy George
- Nenhum comentário no momento - |
|---|
| Desde 3 de Agosto de 2008 |
|---|
